Sobre o que se conversava pouco importava para o velho. Importa mesmo é que ele já não servia para nada; que velho só serve para se escorar um no outro; que velho quando tomba tem mesmo é que morrer; que essa coisa de céu e inferno é coisa inventada para ganharem dinheiro de velho por aqui; que a morte é uma grande piada divina. E se ria, encostado que já estava na casa dos noventa anos.
A reinvenção da morte não poderia ser mais natural na sua condição. Já não tem com quem e para quem contar. Só seus velhos companheiros. Mas de que adianta contar coisa para velhos, tão inúteis quanto ele? Os velhos, de fato, parecem já não servir para nada. Ninguém lhes dá ouvidos. Não se aprende mais a viver ouvindo como, quando moleques, capturaram sua primeira rês perdida pelas caatingas do São Francisco. Não existem mais reses perdidas no sertão do São Francisco. Só pessoas. Por alguma razão, que me parece ainda obscura, um estouro de gentes que seguiam juntas pela estrada foi seguido de um refúgio que parece sem volta.
Que o mundo seja mesmo assim, governado por seqüências de acasos entre uma escolha e outra, ou entre uma imposição e outra, não cabe aqui discorrer. A errância pelo mundo também ensina e certamente substituirá as longas noites de lamparinas e estórias. Da mesma forma, os velhos procurarão outro destino para tantas vivências e sabedorias acumuladas. Quem sabe, vez em quando, não apareça um menino vindo de terras longínquas, capaz de escutar com atenção e deslumbre as peripécias de aventuras quase esquecidas? Quando não, ao menos a morte deixa de ser uma companheira sombria e já lhes parece um destino mais natural do que uma vida sem sentido.
Consideremos agora o texto acima como independente desta parte que agora escrevo. Hesitei muito antes de postá-lo como está. Resolvi a questão no instante em que pensei e decidi escrever esta parte explicando o porquê de ter publicado dessa maneira.
O fato é que a primeira parte, já que o texto é dividido, não sem razão, por três asteriscos ladeados e centralizados, é uma narração que basta em si mesma; a segunda parte é apenas um comentário – ou uma crítica, se eu me julgar capaz de ser pretensioso. Portanto, construí uma narrativa, e junto a ela anexei a minha crítica à essa mesma narrativa. Pensei o porquê de ter feito isso. Pensei. Não seria melhor que cada leitor interpretasse o texto à sua maneira e disso tirasse as suas próprias conclusões? Porque eu iria empobrecer tão deliberadamente um texto tão bem acabado em dois mínimos parágrafos?
Decidi publicá-lo, ainda assim, da forma como foi. Pensei que eu não quero apenas sistematizar leituras das coisas e jogá-las no mundo como se eu não existisse. Um leitor mais ortodoxo poderia dizer: ora, apareça no texto! Se desejar ser sutil, o faça, mas esteja lá. Diga que você estava sentado numa cadeira assistindo aquela cena e sentido cansaço e calor, e que os braços doíam de tanto segurar a direção da moto naquele areião sem fim.
Poderia fazer isso. Mas não quis fazer. Simplesmente optei por descrever a cena. Depois, senti falta de mim ali, mas não quis alterar algo que nasceu com uma certa naturalidade. Este conflito me levou a escrever a crítica que segue o texto. Eu preciso estar ali, a minha opinião sobre as coisas precisam acompanhar a descrição crua das coisas. Isso é muito perceptível em vários pósts deste provocações.
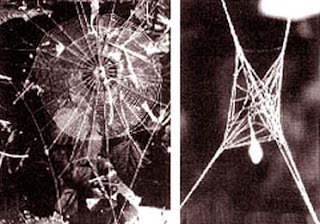 Não sou eu o único autor destas pensações. Pretendo colocar aqui o meu ponto de vista sobre um papo de sofá com Davi Lara, ontem a noite, na sala da república dialógica lá de casa. Nem seria preciso escrever que são fragmentos apenas, mas prefiro ser redundante que incompreendido.
Não sou eu o único autor destas pensações. Pretendo colocar aqui o meu ponto de vista sobre um papo de sofá com Davi Lara, ontem a noite, na sala da república dialógica lá de casa. Nem seria preciso escrever que são fragmentos apenas, mas prefiro ser redundante que incompreendido.

